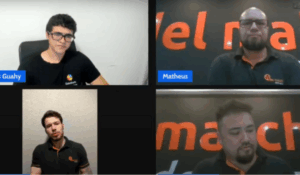Ministro do TST discute como a evolução do trabalho por plataformas desafia as bases legais da CLT e exige novas interpretações jurídicas.
Promovido pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobtec), o encontro que discutiu o novo cenário do trabalho no Brasil e os desafios enfrentados pela Justiça Trabalhista trouxe como destaques a editora trabalhista do portal Jota, Adriana Guiar, e o ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Com uma carreira iniciada em 1993 como juiz do trabalho, passando pelo cargo de desembargador no TRT de Santa Catarina em 2006 até sua posse como ministro do TST em 2018, o ministro Ramos trouxe sua experiência e visão sobre as transformações no mercado de trabalho e seus impactos no Judiciário. Confira a entrevista completa abaixo:
Adriana Guiar: O tema principal da nossa conversa de hoje é a regulamentação do trabalho intermediado por plataformas. O Brasil enfrenta desafios como 40% da força de trabalho na informalidade, além do surgimento de novas modalidades de trabalho, como o híbrido e o impactado pela inteligência artificial. Como a Justiça do Trabalho tem lidado com essas questões?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Há muitos desafios e um esforço tremendo para oferecer respostas. Uma primeira consideração que devemos fazer diz respeito às estatísticas sobre trabalho informal. Em números gerais, no Brasil, temos aproximadamente 108 milhões de pessoas economicamente ativas. Desse total, há, como você mencionou, cerca de 46 milhões de pessoas com carteira assinada. Isso deixa uma margem significativa, superior a 50%, de pessoas na informalidade.
No entanto, precisamos considerar outro dado relevante: aproximadamente, das 20 milhões de empresas ativas no Brasil, entre 12 e 14 milhões são microempreendedores individuais (MEIs). Esse formato de empresa reúne, em uma única pessoa, as funções de trabalhador, investidor e empresário. Então, será que esses trabalhadores estão sendo contabilizados na informalidade?
Outro ponto importante é o número de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros benefícios do governo, que ultrapassa 26 milhões de cidadãos. Esse é um problema que, em algum momento, o Brasil precisará enfrentar. Há uma reclamação constante sobre a falta de mão de obra disponível para diversas atividades econômicas no país, em praticamente todos os setores.
Ainda assim, é inegável que há um problema relacionado à informalidade. Essa situação tem sido impactada pelas novas formas de trabalho que surgem, especialmente aquelas ligadas à tecnologia e às plataformas digitais. E essas não serão as únicas mudanças que veremos em um futuro próximo.
A Justiça do Trabalho é frequentemente chamada a decidir casos relacionados a essas novas modalidades de trabalho. Idealmente, gostaríamos de decidir apenas as relações jurídicas e situações amparadas por leis específicas, mas ao Judiciário não é permitido se esquivar de resolver os conflitos de interesse da sociedade, mesmo na ausência de uma legislação própria.
Dessa forma, quando não há uma lei específica, o Judiciário enfrenta desafios que ampliam o leque de possíveis soluções. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho recorre à analogia, à equidade, aos princípios gerais do direito e, em alguns casos, até à legislação estrangeira. Nesse cenário, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem atuado, mas enfrenta divergências internas entre suas turmas, cujo objetivo é uniformizar a jurisprudência nacional sobre o tema do trabalho em plataformas digitais.
Essa é a realidade com a qual a Justiça do Trabalho lida atualmente, em meio a um cenário dinâmico e em constante transformação.
Adriana Guiar: A ausência de uma legislação específica para o trabalho em plataformas é um exemplo claro de como essas demandas chegam à Justiça. Com mais de um milhão e meio de entregadores e motoristas registrados em plataformas, como isso deve ser interpretado dentro da legislação atual?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Voltando à questão da inexistência de legislação, enquanto você comentava, lembrei do caso da terceirização. Foi um fenômeno que começou a ser aplicado e adotado pelas empresas, especialmente a partir da transição do modelo fordista para o modelo toyotista na década de 1970. Naquela época, não havia uma legislação específica, que só veio a ser regulamentada em 2017 com a Lei 13.429. Já em 1993, o TST superou a Súmula 256, oferecendo algumas diretrizes sobre a validade da intermediação de mão de obra por empresas terceirizadas. Posteriormente, essa súmula foi substituída pela Súmula 331, que, em parte, foi declarada inconstitucional pelo STF na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e no Tema 725 de repercussão geral.
Esse é o desafio: como resolver novos casos que não se enquadram nos padrões contratuais previstos pela legislação trabalhista brasileira? Nossa principal norma, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada na década de 1940, sequer cogitava a existência de modelos de trabalho tão distintos dos daquela época. Vale lembrar que, no momento de sua edição, o Brasil ainda era um país majoritariamente agrário, com uma indústria nascente, e a CLT foi uma ferramenta importante para impulsionar o desenvolvimento econômico do país nas décadas seguintes.
No entanto, a CLT adotou, originalmente, um padrão de contrato de trabalho predominantemente por prazo indeterminado. Mesmo quando prevê contratos temporários, a norma é bastante restritiva, aplicando-se apenas a atividades de natureza transitória, contratos de experiência ou outras situações específicas. Com o tempo, algumas adaptações foram feitas, como a introdução do contrato de trabalho a tempo parcial e, mais recentemente, o contrato intermitente, reformulado pela reforma trabalhista. Este último tem sido alvo de críticas, mas, ao meu ver, resolve uma questão concreta: formalizar o trabalho dos freelancers, antes realizados na informalidade, sem descaracterizar a natureza esporádica desse tipo de trabalho.
Agora, aplicamos essa mesma legislação às novas questões do trabalho por plataforma. A CLT define a relação de emprego com base em quatro elementos: pessoalidade, onerosidade (remuneração pelo trabalho realizado), não eventualidade (inserção nas necessidades permanentes da atividade econômica) e subordinação jurídica. É nesse último ponto que surgem as maiores discussões, especialmente com a introdução de conceitos como subordinação jurídica ao algoritmo e subordinação estrutural.
Na visão tradicional da CLT, a subordinação jurídica implica a sujeição do trabalhador ao poder hierárquico da empresa, manifestado em diferentes formas: o poder de dirigir a prestação de trabalho (dar ordens, comandos e orientações), o poder de fiscalizar o trabalho, o poder regulamentar (normas internas) e, finalmente, o poder disciplinar (aplicação de sanções). Esse poder disciplinar é uma característica essencial da relação de emprego, diferenciando-se de outras formas contratuais.
O grande desafio, no entanto, é adaptar esses conceitos a uma realidade completamente distinta daquela prevista quando a CLT foi criada. No trabalho por plataforma, não há a tradicional vinculação direta entre uma empresa, um local físico e trabalhadores desenvolvendo uma atividade determinada. Isso explica, em parte, os conflitos existentes no Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reflete, em suas decisões divergentes, a complexidade de lidar com essa nova realidade.
Adriana Guiar: Na próxima segunda-feira, começa uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Qual é a importância de ouvir todas as partes envolvidas?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Essa é uma pergunta muito importante, Adriana, porque nos permite refletir sobre o novo papel do Poder Judiciário. Tudo evolui. Se olharmos para a história da humanidade, veremos que tudo, inclusive as instituições públicas, passa por transformações. Hoje, com o sistema de precedentes fortalecido pelo atual Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que tange à jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (STF), é essencial que as decisões judiciais reflitam adequadamente os problemas que buscam solucionar. Afinal, grande parte de uma boa solução está em compreender profundamente o problema. Um problema mal compreendido inevitavelmente leva a soluções precárias e equivocadas.
Nesse contexto, as audiências públicas adotadas pelo STF e por outros tribunais superiores — e até por alguns tribunais estaduais — têm desempenhado um papel crucial. Elas permitem que as premissas fáticas dos casos sejam devidamente apresentadas, rompendo a ideia de que “o que não está nos autos não está no mundo”. Isso possibilita ao julgador ter uma visão mais completa da realidade e considerar, na formulação das teses jurídicas, as consequências práticas de suas decisões.
Um exemplo recente disso foi o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5322, que analisou mais de 20 dispositivos da Lei dos Motoristas. Muitos desses dispositivos foram incorporados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 2013, enquanto outros estavam no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse julgamento, o STF declarou parte desses dispositivos constitucionais e outros inconstitucionais. Entre os dispositivos declarados inconstitucionais estavam o tempo de espera, o fracionamento do repouso semanal remunerado e a possibilidade de fracionamento e acumulação do intervalo interjornada, devido às especificidades do setor.
Os efeitos práticos dessa decisão foram tão significativos — e, em alguns casos, até prejudiciais — que, pela primeira vez na história do STF, houve a oposição de embargos de declaração pedindo a modulação dos efeitos da decisão. O objetivo era que a inconstitucionalidade se aplicasse apenas para situações futuras, evitando impactos retroativos que poderiam gerar passivos desde a edição da lei em 2013. Esses embargos foram assinados em conjunto pela confederação patronal e pela confederação dos trabalhadores no transporte de cargas, revelando um esforço conjunto para mitigar os impactos negativos. O Supremo, ao julgar os embargos, compreendeu a necessidade de modular os efeitos para dimensionar melhor as consequências práticas da decisão.
Dessa forma, as audiências públicas parecem estar se consolidando como uma prática indispensável no Judiciário, pois oferecem uma visão mais ampla e realista das questões em análise, permitindo decisões mais fundamentadas e equilibradas.
Adriana Guiar: No caso da audiência pública sobre plataformas, há algum aspecto que o senhor acha importante esclarecer para uma análise mais prática desse modelo de trabalho?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Há muitos pontos importantes a serem considerados. Um ponto fundamental é definir o escopo e o alvo da investigação em uma audiência pública, para posteriormente delimitar o alcance da tese. Sabemos que os precedentes judiciais são construídos com base em uma fundamentação fática. Por isso, é essencial que os casos representativos da controvérsia sejam abrangentes. Ao mesmo tempo, como no caso de um recurso analisado sob a sistemática da repercussão geral, a questão não pode ser tão restrita às situações fáticas específicas que limite sua aplicabilidade a casos idênticos ou muito semelhantes. É necessário um grau de generalidade para que a decisão resolva efetivamente o problema, especialmente em algo tão relevante como as questões atuais do mercado de trabalho.
Nesse sentido, definir o alvo é crucial. O termo “trabalho por plataforma” muitas vezes nos remete automaticamente a empresas como Uber e iFood, entre outras que oferecem serviços baseados em localização por GPS. Dentro desse universo, ainda há subdivisões: serviços de transporte de passageiros, como táxi e ridesharing, e serviços de entrega, como delivery. Embora ambos sejam baseados em localização, tratam-se de tipos distintos de trabalho por plataforma.
Entretanto, trabalho por plataforma não se limita a atividades baseadas em GPS. Há também o trabalho online baseado na web, que abrange outro segmento significativo. Esse modelo inclui atividades como realização de microtarefas, edição de pequenos vídeos, correção de áudios, trabalhos de design gráfico, consultoria jurídica, tradução, apoio financeiro e outras funções executadas remotamente. Um exemplo interessante são os concursos realizados por meio de plataformas digitais. Nesse caso, os profissionais participam de editais ou competições, onde só são remunerados caso seus projetos sejam selecionados. Esse modelo, que antes estava restrito ao mundo físico, como concursos de projetos arquitetônicos, agora permite que profissionais rompam barreiras locais e participem globalmente, otimizando suas oportunidades e ganhos.
Até o momento, não há uma discussão ampla sobre a existência de vínculo empregatício nesses casos, e, em minha visão, isso faz sentido. A relação de emprego não parece caber nesse contexto específico de trabalho baseado na web.
Se ampliarmos ainda mais o escopo, há também o fenômeno dos influenciadores digitais. Trata-se de uma profissão emergente, onde indivíduos criam, produzem e publicam conteúdos por meio de plataformas de redes sociais, com a monetização atrelada ao engajamento gerado. Embora algumas pessoas possam sugerir a existência de uma relação de trabalho nesse caso, parece evidente que isso seria um exagero, dado o modelo de independência característico dessa atividade.
Portanto, a análise sobre o trabalho por plataformas exige uma abordagem cuidadosa e diferenciada, considerando as particularidades de cada modelo e evitando generalizações que possam levar a conclusões equivocadas.
Adriana Guiar: Seria ideal que o Supremo delimitasse bem a discussão para evitar ampliação excessiva do escopo?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Com certeza. É essencial que o Supremo delimite bem o objeto da investigação. Por exemplo, se a análise envolve uma empresa específica como a Uber, o foco poderia ser o trabalho baseado em localização para transporte. No entanto, isso não impede que as decisões se estendam a casos similares, como entregas por plataforma. Ampliar o escopo para incluir trabalhos baseados em web, por outro lado, pode fugir do contexto factual do caso principal.
Adriana Guiar: O julgamento do Supremo tem sido muito aguardado. Quando a decisão final for proferida, ela deve pacificar a questão?
Ministro Alexandre Luiz Ramos A pacificação é esperada, considerando que as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), tanto em controle concentrado quanto em controle difuso (especialmente nos recursos com repercussão geral), possuem efeito vinculante. Isso significa que essas decisões obrigam todos os órgãos do Poder Judiciário e, dependendo do caso, também vinculam órgãos da administração pública. Contudo, é importante destacar que nenhuma decisão do STF vincula o Congresso Nacional, que pode, a qualquer momento, exercer sua função de legislar e representar diretamente a vontade popular, como já vimos em temas polêmicos recentes.
Quando o STF decide, toda a estrutura do Poder Judiciário deve observar e cumprir o precedente vinculante estabelecido. Essa obrigatoriedade diferencia os precedentes do Supremo dos precedentes obrigatórios gerados por outros tribunais superiores, regionais ou estaduais. A inobservância de um precedente do STF resulta no que se chama de “coisa julgada inconstitucional”. Isso ocorre porque as decisões do Supremo têm o que ele próprio definiu como “mecanismo de eficácia rescisória”.
Esse mecanismo implica que, a partir da fixação de uma tese pelo STF, decisões futuras ou supervenientes que não sigam o precedente deixam de ter validade jurídica. Além disso, se não houver modulação dos efeitos da decisão, ela pode alcançar até mesmo decisões transitadas em julgado antes da fixação da tese, o que abre caminho para a revisão dessas decisões por meio de ação rescisória.
Portanto, a força vinculante das decisões do STF não só promove uniformidade na interpretação das normas constitucionais, mas também garante a sua eficácia jurídica, trazendo estabilidade ao sistema judiciário e alinhando as decisões judiciais às diretrizes constitucionais.
Adriana Guiar: Enquanto o Supremo não julga o tema em repercussão geral, temos visto reclamações sobre decisões conflitantes na Justiça do Trabalho. Qual sua opinião sobre isso?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Essa é uma questão muito interessante. No cenário das teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF), o mecanismo da reclamação constitucional desempenha um papel crucial. Ele é a principal ferramenta para a preservação da integridade e aplicação do sistema de precedentes. A reclamação possui um procedimento ágil, similar ao do mandado de segurança, permitindo, por exemplo, decisões liminares sem a necessidade de oitiva da parte contrária, além de um julgamento mais rápido. Isso fortalece os precedentes, pois evita a espera pelo longo trâmite processual normal.
Por exemplo, quando um tribunal regional descumpre uma decisão do STF, sem a reclamação, o processo poderia levar anos até que o tema chegasse novamente ao Supremo por meio de recursos regulares. Com a reclamação, o descumprimento pode ser resolvido de maneira imediata.
É interessante observar que a jurisprudência atual do STF já aponta no sentido de não reconhecer vínculo empregatício regido pela CLT entre trabalhadores e plataformas digitais. Contudo, essa posição tem sido expressa principalmente por meio de reclamações, o que indica que o STF utiliza essa ferramenta não apenas para preservar, mas também para calibrar seus precedentes.
Um exemplo relevante é o tema da terceirização, tratado na ADPF 324 e no Tema 725. Nesse caso, o STF decidiu que é constitucional a prática de terceirização, permitindo que trabalhadores de empresas prestadoras de serviço atuem para empresas contratantes sem que haja vínculo empregatício. Contudo, o STF posteriormente ampliou essa tese, incorporando elementos de outros julgados, como o do transportador autônomo de carga (DC 48), os contratos de parceria em salões de beleza e o tema do representante comercial. Assim, o tribunal validou modelos contratuais como a pejotização, associações entre advogados e escritórios, contratos de corretagem imobiliária e de seguros, entre outros, reconhecendo que a Constituição não exige exclusivamente o modelo de contratação pela CLT.
Esse entendimento reflete a flexibilidade que o STF vem adotando para validar arranjos contratuais alternativos, incluindo o trabalho por plataforma digital. É possível prever que, com base nas reclamações já julgadas, o Supremo tende a consolidar uma tese afastando a relação seletista entre trabalhadores e plataformas digitais.
Além disso, o STF já analisou casos relacionados ao trabalho por plataforma, como na ADPF 449 e no Tema 967. Na ADPF 449, o tribunal declarou inconstitucional uma lei do município de Fortaleza que restringia a atuação da Uber em favor dos taxistas, reconhecendo a constitucionalidade do transporte privado individual por aplicativos. O Tema 967 reforçou essa posição, ao validar a atividade de transporte privado individual como constitucional, com base na Lei de Mobilidade Urbana.
Essa lei, ao regulamentar o transporte privado individual, estabelece requisitos importantes, como a necessidade de seguro e a inscrição do motorista no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como contribuinte individual. Segundo a legislação previdenciária, o contribuinte individual é aquele que, sem ser empregado, exerce uma atividade de forma autônoma. Essa disposição sinaliza um reconhecimento normativo de que motoristas de plataformas digitais exercem uma atividade autônoma, reforçando a tendência do STF de afastar o vínculo empregatício nesses casos.
Portanto, ao analisar a relação entre trabalhadores e plataformas digitais, o STF parece caminhar para consolidar um entendimento que privilegia a autonomia e a flexibilidade dessas novas formas de trabalho, em alinhamento com as disposições legais e precedentes já estabelecidos.
Adriana Guiar: O Tribunal Superior do Trabalho (TST) também tem julgado esses processos. Não seria o caso de pacificar o entendimento interno?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Acredito que sim, mas antes é importante abordar a questão da competência, já que, na pergunta anterior, você mencionou julgamentos em que o Supremo Tribunal Federal (STF) direciona casos para a Justiça Comum, enquanto outros são enviados ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). De fato, o STF tem construído uma jurisprudência que reconhece que certas formas de contratação de força de trabalho, regidas por contratos civis ou comerciais — e não seletistas —, devem ter sua validade analisada pela Justiça Comum.
Essa orientação tem gerado perplexidade em alguns casos, especialmente porque, em determinadas situações, o STF determina que processos sejam remetidos à Justiça Comum, mesmo quando a pretensão é o reconhecimento de vínculo empregatício com base nos elementos configuradores da relação de emprego e alegações de fraude. O entendimento do Supremo é que cabe à Justiça Comum decidir, inicialmente, se o contrato civil ou comercial formalmente estabelecido é válido. Somente após essa análise, caso o contrato seja considerado inválido, o processo seria devolvido à Justiça do Trabalho para que esta examine a existência de vínculo empregatício e os pedidos decorrentes.
Esse posicionamento, embora controverso, não é exatamente uma novidade na jurisprudência do STF. Desde a Emenda Constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho pelo artigo 114 da Constituição, o Supremo vem adotando um entendimento semelhante em outras situações. Por exemplo, no julgamento da ADI 3395, o tribunal fixou que a competência para julgar relações administrativas estatutárias é da Justiça Comum (estadual ou federal, dependendo do caso). Além disso, o STF determinou que cabe à Justiça Comum analisar a validade da transição de um regime seletista para um regime estatutário ou verificar a validade e eficácia de uma relação administrativa.
Esse raciocínio agora se aplica também aos casos que envolvem contratos civis em que se discute a existência ou não de relação de emprego. É importante destacar que o TST tem feito sua parte para uniformizar entendimentos. Divergências entre suas turmas levaram a questão à Seção de Dissídios Individuais 1 (SDI-1), responsável pela uniformização interna do tribunal. Recentemente, o Tribunal Pleno do TST foi chamado a decidir, com efeito vinculante, questões relacionadas à aplicação da reforma trabalhista a contratos em curso e à existência ou não de vínculo empregatício em situações específicas.
Contudo, como o STF também afetou essa matéria à sistemática da repercussão geral, parece mais prudente aguardar sua decisão. Afinal, em matéria constitucional, a palavra final cabe ao Supremo Tribunal Federal, que já assumiu o tema como de relevância nacional. Isso reforça a necessidade de alinhamento entre as decisões, garantindo segurança jurídica e coerência no tratamento dessas questões.
Adriana Guiar: Os julgamentos recentes no pleno do TST, como a aplicação da reforma trabalhista aos contratos existentes e o acesso à justiça gratuita, foram marcados por decisões acirradas. Caso o Pleno julgue a questão das plataformas, o senhor acredita que essa discussão também dividirá os ministros?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Certamente. Os órgãos do Estado e os tribunais, ainda que idealmente devessem atuar de forma imparcial, acabam refletindo certa polarização. Não necessariamente ideológica, mas de pontos de vista divergentes dentro de uma mesma perspectiva. Isso não é novidade. No Tribunal Superior do Trabalho (TST), por exemplo, há divisões claras entre correntes que podemos classificar como conservadoras e progressistas.
A corrente conservadora defende a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como o principal instrumento para garantir a dignidade no mundo do trabalho. Essa visão busca preservar o modelo histórico incorporado pela CLT, sendo avessa a novas formas de inserção da força de trabalho na atividade econômica. É comum encontrar, nas decisões dessa vertente, o entendimento de que, se uma empresa admite a prestação de serviço por outra modalidade que não seja a CLT, recai sobre ela o ônus de provar que a relação não era de emprego. Quando esse ônus não é cumprido, reconhece-se o vínculo empregatício. Além disso, essa corrente tende a enxergar fraude em contratos que não sigam o regime da CLT, interpretando a fraude de maneira ampla.
Por outro lado, a corrente progressista, embora também respeite as normas de proteção ao trabalhador e a matriz constitucional do Direito do Trabalho, busca incorporar novas formas de trabalho com uma visão mais atualizada. Essa perspectiva reconhece as mudanças no mercado de trabalho e tenta equilibrar a proteção ao trabalhador com a incorporação de arranjos contratuais mais modernos.
No final das contas, ambas as correntes convergem em um ponto central: a proteção ao trabalhador. A Justiça do Trabalho, por mais liberal que seja, não abandona essa perspectiva, reconhecendo a desigualdade entre as partes e a necessidade de aplicar uma legislação protetiva. No entanto, é preciso encontrar um equilíbrio. Como um remédio, a proteção excessiva pode ser prejudicial, enquanto uma dose insuficiente não gera os efeitos desejados.
Esse conflito de visões fica evidente, por exemplo, na análise da validade de normas coletivas. A corrente conservadora tende a adotar uma postura paternalista em relação às negociações coletivas, invalidando acordos sob o argumento de que o trabalhador foi prejudicado. Por outro lado, a corrente progressista busca validar as negociações coletivas sempre que possível, entendendo que o benefício deve ser coletivo e não analisado de forma individualizada. Afinal, se cada negociação coletiva que limita a aplicação da lei fosse considerada prejudicial ao trabalhador, estaríamos negando, na prática, a própria tese vinculante do Supremo sobre o tema.
Portanto, caso esses dois posicionamentos cheguem ao Tribunal Pleno, a decisão será tomada por uma margem estreita, refletindo a divisão interna do TST e a complexidade da questão.
Adriana Guiar: Ainda pode haver uma regulamentação mais específica pelo Congresso. Que aspectos deveriam constar nessa legislação, além da questão previdenciária e da jornada?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Primeiramente, Adriana, é importante enfatizar que o poder legislativo é, por excelência, o responsável por editar normas gerais e abstratas, representando a vontade popular. Apesar de suas imperfeições, é esse poder que deve acolher as demandas sociais decorrentes das novas situações apresentadas pela sociedade e estabelecer regulamentações para disciplinar essas questões no futuro. Muitas situações acabam exigindo que o Congresso Nacional se manifeste, sendo provocado pela sociedade. Contudo, enquanto isso não ocorre, os casos chegam ao Judiciário, e um sistema paralelo vai se formando, como o que discutimos até agora.
Atualmente, há diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre o trabalho em plataformas digitais, alguns com um enfoque mais protetivo e outros mais liberais. No entanto, é ao Congresso que cabe criar uma legislação que resolva essas situações de forma abrangente e clara. Não acredito que essa regulamentação deva simplesmente estender as disposições da CLT a esse tipo de relação, pois não vejo como essa modalidade de trabalho se encaixaria no modelo jurídico estabelecido pela CLT. Esse entendimento já é refletido em reiterados julgamentos.
Além disso, há a necessidade de se abordar algumas questões que talvez não devam ser tratadas exclusivamente pela legislação trabalhista, mas também por outros ramos legais, como a legislação de trânsito. Por exemplo, a legislação de trânsito já estabelece limites para a condução contínua de motoristas rodoviários, o que poderia ser adaptado para motoristas de aplicativos. Isso incluiria, por exemplo, a imposição de limites de horas de condução contínua, a obrigatoriedade de intervalos de descanso ou a fixação de um intervalo mínimo entre jornadas — algo semelhante às 11 horas estabelecidas pela CLT, ou outro período que fosse considerado adequado.
Essas medidas teriam o objetivo não apenas de proteger o trabalhador autônomo, mas também de garantir a segurança do usuário do serviço e de terceiros. Afinal, sabemos que uma pessoa que dirige por 16 ou 18 horas seguidas terá seu reflexo e sua capacidade de evitar acidentes significativamente prejudicados, colocando em risco a própria integridade, a dos passageiros e a de outras pessoas no trânsito.
Portanto, a regulamentação desse tipo de trabalho exige um equilíbrio cuidadoso entre proteção ao trabalhador e segurança pública, sem necessariamente impor os mesmos moldes jurídicos previstos na CLT, mas reconhecendo as especificidades dessa nova realidade de trabalho.
Adriana Guiar: Com mais de 80 anos, a CLT ainda é aplicável às novas relações de trabalho? A reforma trabalhista foi suficiente para atualizá-la ou seriam necessárias outras alterações?
Ministro Alexandre Luiz Ramos: Acredito que a CLT seja uma legislação atual, mas não uma que consiga resolver todos os problemas do mercado de trabalho. O grande desafio é aplicar a CLT de forma adequada às situações que demandam sua aplicação. Hoje, temos mais de 46 milhões de brasileiros com carteira assinada, regidos pela CLT, representando mais de 40% da população economicamente ativa. Esse número reflete a importância da CLT, especialmente para setores tradicionais, como comércio, indústria, setor bancário e empresas de jornalismo, que demandam esse tipo de contrato. No entanto, a realidade do mercado de trabalho vai além disso, incluindo uma variedade de outras relações jurídicas de prestação pessoal de trabalho que não se enquadram no regime da CLT.
A reforma trabalhista trouxe mudanças importantes para enfrentar essa realidade. Primeiramente, ela ampliou o leque de contratações, permitindo maior flexibilidade ao reconhecer e regular modalidades como trabalho autônomo, contrato a tempo parcial, teletrabalho, contrato intermitente, entre outras. Isso foi fundamental para adequar a legislação às novas demandas do mercado.
Outro aspecto relevante foi o fortalecimento da autonomia da vontade, tanto coletiva quanto individual. No âmbito coletivo, os artigos 611-A e 611-B introduzidos pela reforma trabalhista exemplificam essa mudança. O artigo 611-A lista situações que podem ser negociadas entre empregadores e empregados, enquanto o artigo 611-B especifica o que não pode ser objeto de negociação. Fora dessas restrições, o que não é proibido é permitido, reforçando o princípio da intervenção mínima da Justiça do Trabalho na autonomia coletiva.
No âmbito individual, a reforma também ampliou a liberdade do trabalhador em ajustar questões contratuais, como jornada 12×36 e acordos de compensação, além de criar a figura do trabalhador hipersuficiente, caracterizado por ter alto nível salarial e formação superior.
Essas mudanças não foram fruto de um capricho político momentâneo, mas refletem um contexto histórico mais amplo, em que os cidadãos buscam maior protagonismo em diversas esferas da vida, seja política, econômica ou social. Vivemos em uma época em que as pessoas desejam expressar suas opiniões e participar ativamente das decisões que as afetam, mesmo que essas opiniões nem sempre sejam profundamente fundamentadas. Isso faz parte do processo democrático e da evolução das relações sociais.
Esse cenário é evidente em outras legislações recentes. O Código de Processo Civil, por exemplo, introduziu o conceito de negócio jurídico processual, permitindo que as partes negociem aspectos do procedimento, algo antes impensável. A nova lei de arbitragem, a ampliação da conciliação e até a legislação penal, com a adoção da transação penal, demonstram a tendência de maior autonomia e protagonismo dos indivíduos. Além disso, legislações como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei da Pessoa com Deficiência) reforçam a autonomia pessoal, enquanto tentativas de reformar a previdência com base na capitalização também seguem essa linha.
A reforma trabalhista, portanto, insere-se nesse contexto mais amplo de busca por maior protagonismo e liberdade nas relações jurídicas, sempre acompanhada pela responsabilidade necessária para corrigir excessos e erros. Essa evolução legislativa é um reflexo das transformações sociais e econômicas pelas quais estamos passando, adaptando-se às novas realidades sem abandonar a proteção essencial ao trabalhador.